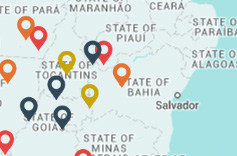Em dezembro do ano passado, no terceiro dia do Encontro de Projetos realizado pelo Fundo Brasil, o cenário do país para 2018 foi debatido em uma roda de conversa que contou com as presenças de convidados, da governança e da equipe da fundação. Os temas centrais foram os desafios para os direitos humanos e as eleições do ano que vem.
Com a mediação da conselheira Denise Dora, seis convidados apresentaram reflexões sobre o assunto, depois debatido por todos os presentes.
O Fundo Brasil tentou trazer perspectivas bem diversas e complementares para que fosse possível montar um mosaico, com o aprofundamento de reflexões sobre o cenário atual.
As fotos são de Ernesto Rodrigues.
Veja a seguir as principais considerações dos convidados:

Ana Carolina Evangelista
Ana Carolina Evangelista, mestre em Relações Internacionais e Gestão Pública pela FGV de São Paulo. Foi gerente de programas da Fundação Avina. Atualmente é consultora e pesquisadora sobre o fortalecimento da democracia, gestão pública, instituições políticas e sistema jurídico. É colunista do blog “Agora é que são elas”.
“Estou aqui falando a partir de dois olhares. Um deles é por ter participado de uma experiência embrionária nas eleições de 2016, que foi a bancada ativista, aqui em São Paulo. Foi uma iniciativa para provocar partidos e candidaturas fora da lógica tradicional. Falo também do lugar de observadora e pesquisadora de experiências semelhantes que venho estudando no Chile, no México e no Brasil. As experiências que olho mais no Brasil, como a de Belo Horizonte, valorizam o sistema político, a política, os partidos. Dialogam, querem provocar, mas valorizam. Meu olhar não é para “experiências de renovação” com apolíticos, não-políticos. Estou olhando para os que provocam o sistema, mas valorizam a política e justamente por isso querem estar em outro espaço de incidência. Querem promover transformações dentro do sistema político. Muito obviamente com o diagnóstico de que as instituições políticas e os representantes políticos não são um retrato do que é a sociedade brasileira e precisamos construir outras lógicas. Aí ocorre o diálogo/enfrentamento. Se a gente olha rapidamente o que aconteceu em Belo Horizonte, vemos uma experiência de construção a partir de vários movimentos e grupos que discutem a cidade a partir de programas, agendas. Que programa queremos para a cidade? A partir daí surgiram propostas de candidaturas para a vereança em Belo Horizonte e, como no sistema brasileiro é obrigatório que as candidaturas sejam por partidos, esse grupo decidiu se filiar em massa ao PSOL. Foi uma filiação em massa – 60 pessoas dos coletivos que vinham de uma construção de dois anos se filiaram, invadiram o PSOL e fizeram essa provocação por dentro. Construíram as candidaturas e elegeram a vereadora Áurea Carolina. Agora estão construindo um mandato coletivo. Não estou querendo idealizar nada, dizer que agora está tudo lindo e maravilhoso. Não é isso. Mas esse foi o modelo. No México, um grupo tentou fazer isso no PRD, o partido de esquerda, e precisou entrar com uma ação judicial, se filiou, mas lá é outro contexto e, com a passagem do tempo, o grupo desistiu e saiu. É um diálogo, mas também uma provocação. Como os partidos tomam decisões sobre quais serão os candidatos, os chamados cabeças de chapa? Como os partidos dialogam com os diversos grupos da sociedade, construindo e promovendo novas lideranças? É muito difícil. Os partidos estão muito cínicos, todos, da direita à esquerda. Muito desconectados dos diálogos nos territórios. Outro elemento comum dessas experiências é que essas provocações têm mais potência se acontecem a partir de eleições locais. Não acho que isso vai acontecer no âmbito nacional. Não tenho nenhuma esperança que essas construções tenham alguma relevância ou incidência nas eleições nacionais. Acho que é uma construção mais para frente. Outra coisa comum dessas iniciativas é uma proposta de radicalizar nos formatos de campanha e nos conteúdos – como os candidatos dialogam não só a partir das plataformas partidárias e que modelos estamos propondo a partir dos territórios e das diferentes causas para as cidades e o país. O combate às desigualdades brasileiras deveria estar no centro. Não é qualquer renovação política, qualquer provocação. Os três elementos principais que eu quero deixar são: o local; a agenda política e os diálogos com os partidos. A mensagem final é: vamos olhar também para o que acontece por fora dos partidos”.

Raull Santiago
Raull Santiago, ativista, comunicador e morador do Complexo do Alemão, no Rio. Fundador do Coletivo Papo Reto, formado por jovens moradores do Complexo do Alemão e Penha.
“Trabalho com o Coletivo Papo Reto na área de direitos humanos e denúncia racial. Também trabalhamos arte e cultura na favela para fortalecer o ‘nós por nós’, a base das pessoas moradoras da favela. Tive a oportunidade, principalmente esse ano, de circular muito pelo Brasil, por outras favelas, outras periferias, outras quebradas, conhecendo jovens e juventudes que estão tentando se reconstruir em um cenário da extrema desigualdade. E ao mesmo tempo vi muita resistência de base. Pessoas se articulando e se fortalecendo através da poesia, do rap, da tecnologia, da ocupação dos espaços de criação. E, nesse processo de desenrolo, é muito curioso pensar que hoje ainda a gente tem um Brasil que é rico em terra – você joga uma semente e a parada cresce; tem água; só que a gente não tem acesso. A estrutura histórica se perpetua até hoje de várias formas. E a dita democracia, principalmente para nós da base da periferia, dos quilombos, das aldeias… existe uma ideia de democracia utópica que a gente quer alcançar, mas ficamos no processo de tentar garantir a sobrevivência para então sermos cidadãos e cidadãs plenos de direitos. Nessa circulação, nesse diálogo, nessa convivência, unificados principalmente através do trabalho das periferias, tentamos discutir esse campo da política partidária. É muito louco que quando pensamos esse campo da direita e da esquerda no Brasil quem é direita está realmente à direita e quem faz o discurso de esquerda ainda está muito à minha direita. A minha esquerda está muito longe da visão da esquerda que não discute a questão crucial, que é a racial. São os preconceitos mascarados, o racismo velado nos discursos da moral, do bom costume, dos gêneros, da escola sem partido. Vemos apenas a dominação do poder, uma tropa de um lado e outra tropa de outro para ver quem ganha em violar mais direitos e comandar a sociedade. Estamos numa situação muito grave e eu olho para 2018 com uma perspectiva de caos construtor. Porque nessa base, nessa juventude a gente vê a resistência acontecer. E, através do Papo Reto, esse ano a gente se provocou muito a debater principalmente a questão político-partidária dentro do Complexo do Alemão. É um complexo com 16 favelas, 200 mil moradores e não temos um político ali de dentro, uma pessoa eleita que possa pensar o complexo. Mas estamos no momento da agenda eleitoral, então vários políticos vão lá para tentar tirar uma foto, perguntar como está a família. E a gente vive a violência, a desigualdade. No Complexo do Alemão ainda temos pessoas cujo principal problema é sanar a fome no dia seguinte ou até mesmo na mesma noite. Não tem moradia de tijolo e cimento, ainda tem uma galera morando em casa de madeira, barraco de pau no alto da favela. Eu me vejo como um privilegiado em meio à minha própria população. E aí temos mitos surgindo que se tornam reais se não encontrarmos uma forma de enfrentar essa realidade. O Coletivo Papo Reto tem mapeado na zona norte, no Complexo do Alemão e favelas próximas, quem está se dizendo candidato e provocamos essas pessoas a vir falar. Nós mesmos organizamos um espaço para isso, para que venham falar com a favela, ouvir as nossas demandas. Ao mesmo tempo temos feito um trabalho de reorganizar a ideia do que é uma estrutura de poder, de Estado e fazer oficinas para a nossa juventude. Eu trabalho direitos humanos no meu ativismo e é muito importante, mas, na ideia crua, para a sociedade, direitos humanos são os direitos de quem está fazendo coisa errada. Há uma criminalização da palavra, do que a gente faz. Precisamos disputar palavras. Trabalho com comunicação e o que tentamos fazer é resignificar através do que a gente tem, da potência para construir e conseguir dialogar com a nossa realidade. Trabalho com rap e poesia. Então tenho feito uns trabalhos de colocar palavras-chave que estão nessa estrutura e muitas vezes nem estão no dia a dia do desenrolo da periferia. O que é o fascista? O que é o Estado? Fazer rap e depois trabalhar com nossa juventude os significados e encaminhamentos. É a periferia que sente na carne o processo de corte de direitos, mais uma vez, por ser preta, por ser pobre, por seu endereço, sua sexualidade. Temos que fortalecer a base, porque o inimigo está conseguindo acessar a base. O inimigo é real. Quer matar preto, não está se importando para nada. A máscara foi tirada e vieram para o front. É muito triste quando vejo a galera da favela botando no perfil “mito 2018”. A gente precisa falar sobre essa pessoa, conversar com os nossos no chão, na favela, no beco, na periferia, no quilombo, na aldeia. Vamos precisar nos fortalecer para fazer o resgate, assim como sobre o significado do que são os direitos humanos. E a mesma coisa vai ter que ser no campo político. Não tem mais como a nossa geração passar por esse processo de esculacho, esse número de desempregados. São milhares de periferias no Brasil e a gente sente o desemprego, a fome, muitos moradores de rua, a questão das drogas. O que temos feito é isso: oficinas, ocupação de ruas, trabalhar o espaço da base disputando o ‘nós por nós’, fortalecendo a nossa população”.

Adriana Ramos
Adriana Ramos, coordenadora do Programa de Política e Direito Socioambiental do Isa; foi secretária-executiva do Fórum Amazônia Sustentável; integra a direção executiva da Abong; e é representante da sociedade civil no Comitê Orientador do Fundo Amazônia.
“Fazemos parte de várias redes e coletivos de organizações. Especialmente esse ano trabalhamos muito numa articulação chamada Resista, que juntou várias organizações e movimentos sociais contra os retrocessos na agenda socioambiental, mas também no âmbito da mobilização nacional indígena, especialmente na pauta da questão dos direitos territoriais. Nos últimos anos, nosso foco tem sido principalmente o enfrentamento com a bancada ruralista, que é essa bancada patrimonialista dentro do Congresso, articulando em diferentes segmentos, não necessariamente os produtores rurais, mas principalmente os donos de terra e os políticos que compram terra para acumulação. Essa bancada estabeleceu como foco de sua agenda a destituição dos direitos territoriais, principalmente dos povos indígenas e das comunidades quilombolas. Tem atuado tanto no Congresso Nacional como no Executivo e no Judiciário. E também na destituição da legislação ambiental. A pós-Constituição trouxe vários avanços nas políticas socioambientais, na questão do reconhecimento e implementação de direitos, mas nos últimos anos o crescimento do poder da bancada ruralista tem trazido uma agenda de retrocessos muito forte. Monitoramos mais ou menos 900 proposições dentro do Congresso que vão na linha de destituição de direitos. Sejam projetos de decreto legislativo para desfazer os decretos que demarcam as terras indígenas e quilombolas, sejam propostas de emenda à Constituição que, no atacado, acabam com direitos estabelecidos. Hoje, nessa agenda, o que temos visto são várias propostas de redução de unidade de conservação; alteração da legislação de licenciamento ambiental para diminuir a participação social e os direitos de consulta das comunidades; a paralisação oficial dos processos de demarcação tanto de terras indígenas com a alteração das regras por meio de um parecer da AGU como a paralisação dos processos de demarcação dos territórios quilombolas em um documento da Casa Civil que diz que enquanto a ação direta de inconstitucionalidade do decreto que regulamenta a demarcação não for discutida no STF o governo não faz nada, como se houvesse essa vinculação. Também há tentativas de acabar com o chamado usufruto exclusivo dos povos indígenas no seu território. Na perspectiva de não conseguir acabar com os territórios indígenas, tentam acabar com a autonomia das populações nas gestões dos territórios, permitindo o ingresso de terceiros para plantar soja ou explorar a mineração. Há também a discussão do chamado marco temporal, que tenta limitar o alcance dos direitos territoriais tanto para as comunidades quilombolas como para os povos indígenas, estabelecendo o marco da Constituição como a data em que eles têm que comprovar que estavam no território. Nesse cenário, houve uma Comissão Parlamentar de Inquérito, chamada CPI da Funai e do Incra, que buscou criminalizar uma série de lideranças do movimento, servidores públicos, procuradores que atuam nessa questão da defesa dos direitos. Essa CPI teve desdobramentos que estão acontecendo até agora. E, por fim, toda a perspectiva de uma agenda ambiental, do reconhecimento para o Brasil de ter uma agenda inclusiva na agenda ambiental, de fazer uma transição aproveitando que é um país com grande biodiversidade, ou seja, que tem um potencial de desenvolvimento a partir do uso sustentável dos recursos naturais, reconhecido mundialmente. Tudo isso indo por água abaixo com uma série de projetos que preveem estabelecer uma nova lógica de ocupação, principalmente em regiões como a Amazônia, desconsiderando inclusive todo o acúmulo e ação dos próprios movimentos na defesa dos seus territórios. É um contexto principalmente no Congresso Nacional muito difícil de enfrentar, porque a gente conta com pouquíssimos parlamentares realmente dispostos a assumir a defesa dessa agenda. Parlamentares que se mobilizam e que têm interesse em relatar um projeto são mais ou menos dez, com algum compromisso mais forte com essa agenda. Muitas vezes, com a força das mobilizações do lado de fora, a gente até consegue fazer algum barulho. Mas no geral tem sido um processo de perdas muito grande. Por outro lado, esse processo de retrocesso que vem de alguns anos para cá fortaleceu muito a mobilização. Sabemos que dentro dos movimentos temos muitas diferenças, mas na hora em que um inimigo maior se apresenta, a gente se articula. Essa mobilização conseguiu, por exemplo, dar apoio para o acampamento Terra Livre, em Brasília. Em 2017, o acampamento reuniu quatro mil pessoas, com uma forte presença e uma boa repercussão de mídia. De tal forma que isso dá um fôlego em termos de comprar essas brigas. Já tivemos em vários outros momentos, especialmente na agenda ambiental, a expectativa de que as eleições são um bom momento para colocar essa agenda na pauta. Mas o tema ambiental já foi muito apropriado por todo mundo. As pessoas falam disso, dizem que vão fazer, usam a palavra sustentabilidade e aí fica muito difícil de, em um debate, conseguir desconstruir e demonstrar quais são as diferenças. Quando o Congresso vota as isenções para as pretoleiras na exploração do pré-sal, que para parte do movimento de trabalhadores pode ser algum alento no ponto de vista de perspectiva de manutenção de emprego, para a agenda ambiental é meio que o fim da linha. O Brasil fazer essa isenção para uma atividade que é de exploração de petróleo, combustível fóssil, emissor de gases de efeito estufa, que vai ter impacto social direto nas comunidades, é muito ruim. E são discussões ainda muito difíceis de travar. Mas a gente prevê que nas eleições de 2018 teremos muitas pessoas dos movimentos. Os indígenas elegeram 160 vereadores no Brasil nas últimas eleições municipais. Isso é uma conquista, uma tentativa de fazer esse diálogo por dentro dos espaços. É muito difícil tratar da questão dos direitos indígenas nas Câmaras de Vereadores, porque praticamente toda questão está no nível federal. Inclusive encontrar qual é a agenda e a pauta que permitam que essas lideranças indígenas que se elegeram contribuam tem sido um grande desafio. Já existem várias candidaturas se articulando para deputado estadual e federal e a gente teve essa notícia recente da pré-candidatura da Sônia Guajajara, a principal liderança da articulação dos povos indígenas no Brasil. Ela foi lançada pré-candidata numa disputa do PSOL e a gente acredita que esse movimento traz a perspectiva do debate. Especialmente quando tratamos da questão socioambiental, quando a gente pensa no desafio das mudanças climáticas, a participação indígena tem sido muito aquém do potencial do que podem trazer. Estamos vivendo uma grande crise civilizatória na relação da sociedade com os recursos naturais e a gente sabe que, no mundo inteiro, vem dos povos indígenas as lições que precisamos aprender. Apesar de reduzido, esse espaço da disputa eleitoral está no radar como uma coisa importante para esse ano, embora a gente não tenha grandes expectativas no que isso vai resultar”.

Rogério Arantes
Rogério Arantes, cientista político, professor da USP, pesquisador do sistema judiciário brasileiro – mais especificamente da atuação do Ministério Público e da Polícia Federal
A partir do ponto de vista de quem olha e pesquisa mais as instituições do que a sociedade civil, gostaria inicialmente de dizer é que numa fala como essa a primeira decisão a tomar é se você vai falar de ponto de vista mais otimista, elaborando cenários mais positivos, apontando caminhos e soluções, ou se você faz o inverso e aborda um sinal mais negativo, pessimista e passa a falar mais da crise do que das perspectivas de superação. Fiquei muito em dúvida sobre qual dos dois eleger. Acabei elegendo o segundo. Mas espero não ser muito pessimista nas colocações que vou fazer a partir do que acho que podem ser as linhas gerais de um diagnóstico sobre a crise na qual nós nos metemos. Acho que a nossa crise, numa perspectiva de longo prazo, é a crise do modelo de 88. Em poucas palavras, é a crise da Constituição de 88. Pelas suas virtudes, mas também por suas fraquezas e deficiências que não conseguimos corrigir ao longo desses quase 30 anos. A Constituição de 88 foi muito generosa ao estabelecer uma série de direitos que pavimentaram a luta da sociedade civil numa série de agendas. A Constituição de 88 foi pródiga em estabelecer mecanismos de participação política, muitos deles de participação direta e institucionalizada no seio do próprio Estado, permitindo à sociedade civil que, inclusive na visão de alguns autores, se institucionalizasse e encontrasse um encaixe dentro do Estado e desenvolvesse de uma maneira mais direta as suas lutas. A Constituição de 88 nos legou liberdades e políticas que permitiram uma intensa participação política via partidos e movimentos, que fizeram a vitalidade da democracia que experimentamos ao longo desses 30 anos. Nos legou também um sistema de Justiça com instituições capazes de desempenhar um papel muito importante na defesa de direitos, do combate à corrupção e de uma série de coisas que mundo afora você não vê as instituições fazerem. É o caso do Ministério Público, instituição na qual o movimento social tem uma série de aliados e que vem desempenhando um papel muito importante na defesa de direitos difusos e coletivos e na defesa de direitos humanos. Essas são em linhas gerais as grandes virtudes que eu vejo na Constituição de 88. A crise que nos abateu nos últimos anos tem raízes nessa estrutura constitucional, mas tem elementos conjunturais que precisam ser bem mapeados se a gente quer pensar cenários para 2018 e um pouco mais à frente, e pensar na luta dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada e mesmo dos partidos políticos no curto, médio e longo prazo. Do meu ponto de vista, a crise tem três dimensões principais. Para além da econômica, que afeta a todos de maneira brutal, ela tem três dimensões principais. A primeira delas tem como marco as manifestações de 2013. Ali uma novidade muito importante aconteceu na sociedade brasileira, que estava habituada a desde 88 mobilizar-se socialmente por meio de organizações da sociedade civil claramente identificadas em torno de uma agenda de direitos e de repente se viu surpreendida pelas manifestações de rua que, numa caixa de pandora, abriram novos grupos, novas intervenções, novas formas de participação, inclusive ideológicas. A ponto de que hoje em dia, nos últimos meses nem tanto, mas no auge das manifestações, da crise que levou à destituição da presidente, a ter que dividir a avenida Paulista com o outro lado. Não imaginei que depois de 88 isso aconteceria no Brasil, mas hoje isso é uma realidade. Essa é uma grande novidade para a sociedade civil brasileira e deve ser considerada em qualquer análise que se venha a fazer, especialmente para o encontro das águas que vai acontecer em 2018. Nas candidaturas que se apresentarem, esses “dois lados” estarão presentes. E altamente mobilizados, intensamente radicalizados. A segunda dimensão diz respeito, paradoxalmente, ao êxito que as instituições de controle, especialmente o Ministério Público, tiveram no combate à corrupção na classe política brasileira. A ponto de quase promover o derretimento do sistema político brasileiro que foi construído na tradição democrática. Acho que desse ponto de vista a crise política atual é gravíssima, porque estamos desmontando o que a transição democrática construiu. Acho que o epicentro dessa crise, desse desmonte, sem querer partidarizar nossa discussão, é a crise do PT. A crise do PT é a crise da democracia de 88, do sistema partidário de 88. O partido que estruturou durante esses 30 anos a competição política, mas também a alternância no poder, a agenda de políticas públicas, o debate em torno de quais reformas fazer, da reforma do Estado, da reforma social, do desafio de construir ou não o estado de bem-estar social que a Constituição de 88 sinalizou como possível para o Brasil, é desse ponto de vista dramático. E, obviamente, isso traz um desafio para as eleições de 2018. Esse sistema partidário que construímos na democratização vai sobreviver e desempenhar um papel que vem desempenhando nesses anos de estruturar a competição política e promover ou não a alternância no poder? Essa é uma grande incógnita que temos ainda para 2018. O terceiro elemento, que é a própria crise do sistema político, a crise que passa pela ruptura do sistema democrático que sem dúvida houve com o impeachment da Dilma – e uso a palavra impeachment por mera formalidade, pode chamar de golpe, aquilo foi um rompimento do modelo constitucional de 88, mergulhou o sistema político e institucional brasileiro num quadro de desagregação que deixou a todos nós, do ponto da cidadania política, social e civil numa situação de ordem proto-autoritária. Meu grande receio em relação aos desdobramentos da ruptura democrática era e continua sendo o fato de que o chamado estado de direito, que nós construímos minimamente a partir de 1988, pode ruir pelo fato de que o cerne do sistema político, que é aquela cadeira presidencial, foi desrespeitado em sua regra fundamental, que é a regra que preside a ocupação. Daqui para baixo, descendo toda a estrutura do Estado, das instituições, você vê episódios de violência institucional, como se os agentes do sistema de Justiça, do sistema do Estado, de um modo geral, estivessem liberados para promover seus valores ideológicos, perseguir quem quer que seja a partir desses valores e, com isso, colocar um desafio muito grande para movimentos na área dos direitos humanos, que a duras vem tentando construir esse estado de direito nesses 30 anos. Então, do ponto de vista da sociedade civil, os grandes desafios são as novidades de 2013 que ainda não interpretamos corretamente. De outro lado um sistema político com o qual vínhamos interagindo com nossas agendas e nossas mobilizações. E instituições que foram nossas aliadas a partir de 1988 e hoje não sabemos mais se continuam sendo ou se passaram para o lado de lá”.

Djamila Ribeiro
Djamila Ribeiro, feminista, pesquisadora e mestre em filosofia política. Foi secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania na Prefeitura de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad (PT). É autora de diversos livros, colunista com forte presença no ambiente digital e destacada atuação nas questões raciais e de gênero.
“Pensar 2018 é algo bem complicado, mas eu gostaria de falar algumas questões do lugar, do campo de onde eu venho. Existe dificuldade, mesmo no campo progressista, de fazer o debate sobre a questão racial e de gênero e acho que isso é importante falarmos. Achar, por exemplo, que esse debate está deslocado da questão de classe é um equívoco muito grande. As mulheres negras são as mais pobres, então não tem como falar de classe no Brasil sem falar de raça e gênero. Estamos pensando em como essas questões são indissociáveis. No Brasil o fator racial é preponderante na pobreza. E isso é tratado ainda como pautas identitárias. Como se as mulheres e a população negra estivessem pensando só nelas mesmas, como se as lutas identitárias se encerrassem em si mesmas. Existe uma dificuldade em perceber que as ditas lutas identitárias são a luta por democracia, para alargamos o conceito de humanidade. Quando a gente fala que é imprescindível falar da questão racial no Brasil, estamos falando que a maioria da população está apartada do que a gente entende por democracia. Está apartada do que a gente entende de humano. Então, melhorar a vida da população negra é melhorar a vida do país. Melhorar a vida das mulheres é melhorar a vida do país. Não é algo que tem que ser pensado de maneira localizada. Enquanto esses grupos estiverem apartados, a gente não pode falar que vivemos numa democracia. Existe uma inversão lógica na hora de pensar essas questões. E aí é interessante pensar também como o homem branco não se pensa como identidade. ‘Vocês são identitários, a gente pensa nas grandes questões’. Quando ele também é uma identidade. Essa disputa é importante de fazer sim. Não é meramente teórica, é uma disputa política. Porque a invisibilidade também mata. Se sequer nomeio o problema, como é que vou pensar uma solução? Temos alguns exemplos, isso não é meramente um conceito. Falando em violência pública, por exemplo, o Mapa da Violência de 2015 mostra que diminuiu em 10% os assassinatos de mulheres brancas e aumentou em 54% os de mulheres negras. Isso significa que na hora de pensar em políticas públicas faltou um olhar étnico racial. Quando a gente não pensa nessas pessoas, é o deixar morrer. Mas se eu não nomeio a realidade das mulheres negras, não crio sequer demanda para políticas públicas. Isso de forma alguma é dividir a luta, porque a sociedade já é dividida. As questões de raça, classe e gênero já dividem a sociedade, colocando o homem branco no topo e a mulher negra na base. Quando a gente nomeia, queremos acabar com essas cisões causadas pelas opressões estruturais. Sendo elas opressões estruturais, têm que ser levadas em consideração em um país como o nosso, com a herança escravocrata que carrega. Um país em que falamos da maioria da população e não de um nicho específico. Essas dificuldades, mesmo nos campos progressistas, de fazer o debate de gênero e racial, fazem com que o outro lado avance, por exemplo, no discurso da tal ideologia de gênero. O que leva a população a crer que existe uma ideologia de gênero, cria-se um espantalho, muito por causa da dificuldade de nós feministas fazermos essa disputa mesmo no campo progressista. Tem que ser uma agenda importantíssima pensar a questão de gênero. Estamos pensando a questão da maioria da população, sobretudo das mulheres negras. Tem existido um avanço grande e precisamos parar de romantizar as periferias – porque periferia não é uma entidade homogênea, como se as pessoas que estivessem naquele espaço automaticamente tivessem consciência de classe, não é isso que acontece. ‘A revolução virá das periferias’, como se as coisas brotassem espontaneamente, quando existe um trabalho que precisa ser feito nas bases. Concordo muito com o Raull Santiago, porque existe muito trabalho sendo feito nas bases, sobretudo com a população negra, e mulheres negras. Tem muito trabalho em rede, tem a importância de conversar com os evangélicos, as igrejas estão nas periferias desse país. A religião negra no Brasil hoje é a evangélica, não é o candomblé. E a gente não vai fazer o debate com essas pessoas? Tenho tido a chance de viajar muito pelo Brasil, porque esse é o trabalho em que acredito, o de formação, de base, de dialogar com mulheres negras de diversos lugares, essa importância de ter trabalho de base, só que isso muitas vezes não é visto como trabalho político, porque a política é só institucional. São trabalhos políticos importantíssimos e que muitas vezes não são vistos. É importante ampliar também a questão do que é a violência contra o povo negro. Quando a gente fala de violência contra o povo negro, temos na mente que falamos de homens negros que são assassinados diariamente. Mas é preciso entender que mulher negra é povo negro; que travesti negro é povo negro. E a gente vive num país que é o número um de assassinato de travestis. Existe um genocídio de mulheres negras na saúde nesse país. Então, é preciso ampliar. Sofremos muitos ataques como mulheres negras, inclusive de pessoas desse campo. São debates que são as grandes questões, desses grupos que são apartados de serem sujeitos de fato. É preciso trazer essas questões à tona porque não são questões que se encerram em si mesmas. Quando a gente não conhece Abdias do Nascimento, a produção dele, é uma forma de genocídio também”.

Douglas Belchior
Douglas Belchior, formado em história pela PUC-SP, professor da rede pública estadual. Fundador e professor do Movimento Uneafro Brasil, palestrante sobre a história das lutas sociais, questão racial e direitos humanos no Brasil. Consultor do Fundo Brasil no tema Justiça Criminal, Violência de Estado e Encarceramento.
“Temos o desafio de conversar sobre direitos humanos e as eleições de 2018. E direitos humanos é uma ideia muito relacionada à democracia. Há experiências de sociedades democráticas que respeitam a existência das pessoas, dos segmentos. O problema é que o Brasil tem pouquíssimas e curtíssimas experiências democráticas. Só tentativas de experiências democráticas. Porque são três quartos de escravidão, um quarto sem escravidão formal e os períodos de democracia, de determinando ponto de vista, podem ser vistos como piores para os mais pobres. Então, que país é esse sobre o qual nós queremos conversar e o que consideramos crise em um país com a história como a nossa? Eu não sou um jovem que começou a militar em 2013. Uma pena. Porque os jovens que passam a militar a partir de 2013 são melhores, mais radicais, desprovidos de qualquer senso de peso na consciência por conta de terem sido educados em ambientes de partidos de esquerda. Então são mais desgarrados desse compromisso e aí são mais radicais, menos pacientes. Então eu vivo o movimento político, na esquerda e no movimento negro, antes de 2013, que é um marco muito importante para analisar o que estamos vivendo agora. E 2013 é muito central e simbólico por ser um momento em que a violência de Estado atinge corpos que não estavam acostumados a sentir a dor da violência cotidiana. Até 2013, o paradigma para pensar direitos humanos era a violência promovida pela ditadura de 1964 e não a violência cotidiana que sempre afetou os corpos negros. Nós nunca ocupamos esse lugar do merecimento da posição de seres humanos. E 2013 é o momento que sinaliza o esgotamento de um modelo de representação de organização política. E não é o esgotamento de um momento qualquer. Se fosse a direita no poder, seria um momento de esgotamento? É uma pergunta. Será que viveríamos 2013 se o governo fosse de direita? Tem que pensar sobre isso. O fato é que, coincidência ou não, o esgotamento se dá na experiência de um governo democrático, popular. A falência do modelo se dá no momento histórico em que quem ocupa o espaço é quem nunca esteve. É muito curioso pensar sobre isso. A partir dali, o papel da grande mídia é que esse pensamento vai se capitalizar. E vocês vão lembrar que a grande pauta era a corrupção, mas, a hora em que a pauta da corrupção deixa de ser tão grande, 2013 é o momento em que surge um monte de coisa que não presta. O MBL (Movimento Brasil Livre), por exemplo. Mas também é o momento de ascensão dos movimentos estruturantes. Que é uma forma de contestar o identitarismo como algo que nos desqualifica, como se identidade não tivesse valor e potência política. O fato é que esse debate, que eles chamam de identidade, mas para nós são elementos que estruturam a realidade brasileira, isso cresce muito a partir de 2013. Isso vai ocupar a cena política, vai ser o grande mote dos principais debates. A gente pode pensar em momentos que são simbólicos. A primeira ação do governo Temer quando ele toma o poder é acabar com secretarias que não tinham grana e não eram importantes politicamente. Eram importantes para nós: o Ministério de Mulheres, Direitos Humanos e Igualdade Social. Por que a Dilma fez uma reforma ministerial meses antes de cair para sinalizar para os caras: olha, não sou tão inimiga de vocês. Ela transformou o que eram três em um só superministério. É um recado político. Ou seja, estou dizendo para o meu inimigo que vou deixar de fazer uma coisa que incomoda eles. Essa ascensão das pautas estruturantes – mulheres, negros, LGBT – vai causar uma reação. Não conseguem responder a essa ascensão nossa só com a pauta da corrupção. O que surge como contraponto é a explicitação da pauta da moral. E inclusive o nosso debate sobre a esquerda vai ficar muito contaminada por isso. No meu tempo de formação, se discutia o modelo de sociedade. O cara de esquerda discute os meios de produção, um debate muito mais amplo. Agora, se você defender a pauta antirracista você é de esquerda. O conceito de esquerda retroagiu. É a forma que eles têm de nos acompanhar. A maneira pela qual se dá a luta de classes no Brasil hoje é fundamentalmente a partir dessas pautas. O que está na mesa da disputa política e ideológica são esses temas. E isso sem dúvida nenhuma contamina o processo de 2018. Nós temos tarefas enquanto ativistas de direitos humanos. Está no nosso colo, quer a gente queira ou não, a principal demanda política do momento. Quem faz hoje o contraponto e o enfrentamento à pauta conservadora de quem está no poder é quem trabalha e milita no campo dos direitos humanos. Com muito mais legitimidade e força do que aqueles campos e organismos mais tradicionais da esquerda: partidos, sindicatos e movimentos tradicionais. Então a bola está no nosso pé. No entanto, o jogo para 2018 não obedece essa lógica. A regra não mudou, não conseguiram fazer a reforma política, então a regra do jogo é a regra de sempre. E é uma regra que para participar você precisa se submeter a essas estruturas. E o problema é que essas estruturas não estão dispostas a garantir o espaço que a esse setor aqui interessa e é legítimo para ocupar. Isso é muito óbvio. Essas estruturas não estão conversando com a realidade, com a conjuntura. E não fazem isso por inocência. Então existe uma potência política na mesa, estamos borbulhando. As pessoas que estão aqui sabem disso, sabem o que está acontecendo, sabem o que é a potencialidade política das pautas de direitos humanos. Por que isso não é reconhecido por essas estruturas? Porque a condução da esquerda brasileira, do campo progressista, está na mão de pessoas que até reconhecem a potência política, mas nunca vão incorporar que isso significaria a destituição deles do comando do processo. Não vão abrir mão disso. Isso é muito sério, porque trata-se da luta pelo futuro. Aí temos algumas tarefas e desafios: estamos vivendo um momento em que o elemento geração é evidente. Como resolver isso e como podemos contribuir para que o debate e essa verdade que é conflito de gerações colocado nos movimentos, nos sindicatos, nos partidos gere frutos para o processo? Outra coisa para a gente que está fazendo atuação para organizações que financiam: vivemos um momento de protagonismo sem produção coletiva. Uma médica negra de Capão Redondo significa muito? Sim. Mas ela não está lá apenas porque é genial. Um menino preto que vira advogado não está lá só porque ele é genial. É porque nós construímos coletivamente, na história e no tempo, que isso fosse possível. E ele estava no lugar certo e na hora certa. No entanto, milhares de brasileiros não vão conseguir – pelo contrário, ficarão presos ou mortos. Então, se essa vitória não está linkada com um projeto político, de sociedade, ela vira mérito. E nós muitas vezes alimentamos isso. É terrível. E, por fim, tarefas nossas, nós que fazemos o movimento real e as organizações que financiam e apoiam: o fortalecimento do trabalho de base; a mudança de paradigma para reorganização do campo progressista. Isso que foi falado aqui precisa nortear a elaboração política da esquerda, dos partidos. Temos que influenciar e pressionar para que isso aconteça. O Fundo Brasil tem papel nisso, as organizações do terceiro setor e nós todos. Temos contribuições fundamentais para reorganizar o campo progressista, não nos apartarmos desse debate. Termino citando Belchior, por meio de uma canção que diz: ‘Guardei as economias para gastar só nos maus dias. E gasto hoje afinal’. Então se tem algum momento da história, da nossa vida que temos de gastar as economias é agora.