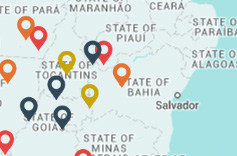O número de mulheres indígenas que conquistaram espaços de poder aumentou nos últimos anos graças a uma tomada de consciência e à existência de “exemplos” nos quais se inspirar. A avaliação é da coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Sônia Guajajara. Sônia concorreu à vice-presidência da República no ano passado, em chapa composta por ela e Guilherme Boulos. Foi a primeira vez que uma mulher indígena compôs uma chapa presidencial no país. “Também pela primeira vez temos uma mulher, Nara Baré, liderando a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia”, lembra.

Sonia Guajajara no Acampamento Terra Livre em abril. Foto: Mídia Ninja
A presença indígena feminina em espaços de poder será uma das pautas prioritárias da Primeira Marcha das Mulheres Indígenas. Marcada para acontecer entre os dias 9 e 13 de agosto, o evento, que conta com apoio do Fundo Brasil, reunirá cerca de 2 mil mulheres indígenas em Brasília.
“O que queremos com a Marcha é dar visibilidade a essas lideranças”, conta Sônia. “Nós, mulheres indígenas, também estamos na luta por igualdade de gênero.”
Para ela, o avanço de pautas prioritárias do movimento indígena brasileiro, como a demarcação de territórios, passa pela valorização dessas lideranças. “As mulheres têm feito frente nas lutas e retomadas de nossos territórios, nos espaços políticos, nas instituições”, afirmou.
A marcha foi planejada em abril durante o Acampamento Terra Livre, tradicional encontro dos povos indígenas brasileiros realizado em Brasília desde 2005. Na ocasião, alegando motivos de segurança, o governo federal acionou Força Nacional e determinou a mudança do local de concentração do acampamento. Segundo Sônia, há o temor de que a Marcha seja recebida com igual resistência. “Inclusive já há resistência em permitir instalação das estruturas da Marcha no local onde foi instalado o Acampamento Terra Livre em 2019.”
Leia a entrevista:
A Marcha das Mulheres Indígenas foi gestada durante o Acampamento Terra Livre, em abril. Por que esse recorte de gênero importa?
Nós, mulheres indígenas, também lutamos por igualdade de gênero. As mulheres têm feito frente nas lutas e retomadas de nossos territórios, nos espaços políticos, nas instituições. E um dos objetivos da primeira Marcha das Mulheres Indígenas é trazer visibilidade à luta das mulheres indígenas em todos os espaços de poder, para além do chão dos nossos territórios.
Quais as pautas prioritárias da marcha?
Definimos algumas pautas prioritárias ainda durante o Acampamento Terra Livre, em abril. Foram destacadas demandas das mulheres indígenas, em relação à educação, saúde e em relação à defesa e demarcação de territórios. Ao longo do ano, no entanto, percebemos que fazia pouco sentido discutir mudanças que precisariam ser implementadas pelo governo. Por isso, vamos discutir o protagonismo da mulher indígena nos espaços de participação social, na política. E vamos pensar as mulheres indígenas no contexto urbano, na inserção delas nesses espaços fora das aldeias. Queremos pensar em como fortalecer a defesa de direitos a partir do protagonismo das mulheres.
O protagonismo das mulheres indígenas se tornou um tópico de discussão mais frequente nos últimos anos. Houve uma mudança cultural, que estimulou essa conversa?
As lideranças femininas sempre existiram. Ainda que algumas culturas não permitissem a participação das mulheres nos espaços de decisão, a gente sempre teve esse papel dentro das aldeias. Sempre orientou as decisões e participou da organização das nossas lutas. Em dado momento, a gente entendeu que essas ditas proibições culturais, que impediam a participação das mulheres, não passavam de uma herança do colonialismo. Eram uma espécie de machismo impregnado. Percebemos que as mulheres precisavam assumir outros espaços. E a presença das mulheres indígenas em espaços de poder fora das aldeias aumentou muito.
Você concorreu a vice-presidência, por exemplo.
Há muitos exemplos. Hoje, a gente tem uma mulher liderando a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia (Coiab), a Nara Baré. Depois de 30 anos de Coiab, pela primeira vez a gente conseguiu colocar uma mulher na coordenação geral e ter uma organização paritária. A Coiab, agora, tem duas mulheres: uma coordenadora geral e uma coordenadora tesoureira. E tem dois homens: um vice-coordenador e um secretário. A gente tem, hoje, uma mulher indígena eleita deputada federal, a Joênia Wapichana. Tem a Chirley Pankará, em São Paulo, codeputada estadual pela bancada ativista. Pela primeira vez na história, a gente teve uma mulher indígena compondo uma chapa presidencial, eu. E, claro, nós temos muitas mulheres liderando o movimento indígena dentro de seu próprio povo.
Em abril, foi preciso mudar o lugar onde aconteceria o Acampamento Terra Livre, um evento já tradicional. Houve hostilidade da presidência em relação ao evento?
Houve. A portaria 441, de 16 de abril, foi publicado às vésperas do evento, e convocava a Força Nacional para “preservação do patrimônio”, reforçando o conceito racista de que os povos indígenas poderiam provocar “bagunça”. Esse decreto foi uma afronta direta e uma tentativa de nos intimidar. Representou uma ameaça à democracia e à liberdade de expressão dos movimentos sociais. O acampamento deveria ser montado na Esplanada dos Ministérios, como acontece há 11 anos. No dia estipulado para a ocupação do espaço, o movimento foi constrangido a se retirar para outro local, fora da Esplanada, sob risco de sofrer repressão policial. Diante destes ataques, percebe-se que é no trato com os povos indígenas que o Brasil se revela. No entanto, mostramos mais uma vez a potência da resistência e reação dos povos indígenas frente à opressão. E mostramos, durante o Acampamento Terra Livre, que a força nacional somos nós.
Existe o temor de que essa resistência do governo se repita durante a Marcha?
Sim. Inclusive a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal já vem oferecendo muita resistência em permitir a instalação das estruturas da 1ª Marcha das Mulheres Indígenas no local onde foi instalado o Acampamento Terra Livre em 2019, ao lado do Teatro Nacional Cláudio Santoro.
Qual o saldo desses seis meses de governo Bolsonaro para o movimento indígena?
Em seis meses de governo, tivemos 50 anos de atraso. O discurso assimilacionista, muito usado durante a ditadura, voltou à tona com muita força. Volta a ideia de que os povos devem abandonar suas culturas, deixar sua identidade para viver outra. O governo Bolsonaro insiste que nós devemos ser integrados, ser assimilados pela sociedade. Como se já não fossemos sociedade. Como se já não estivéssemos integrados. E há uma forte tentativa de cooptação de lideranças. É o que o governo tenta fazer ao dizer que vai promover a agricultura indígena. O que ele quer, na verdade, é promover o agronegócio. Ele olha a Amazônia e não vê uma floresta a ser preservada. Vê lenha. O governo vem fazendo ataques aos direitos humanos, ambientais e culturais. E os povos indígenas são atingidos por todos esses ataques.
No final de julho, a presidência apontou o delegado Marcelo Xavier da Silva como novo presidente da Funai. Ele é considerado próximo da bancada ruralista. A indicação preocupa?
Para ser franca, estamos pouco preocupados com quem assume a Funai. É um órgão subserviente. O que vai mandar, mesmo, é a decisão política da presidência. E a decisão é de não demarcar terras. É de explorar o meio ambiente. Apesar disso, a gente considera uma vitória gigantesca ter revertido a medida provisória que tentava tirar a Funai, e a demarcação de terras indígenas, do ministério da Justiça. O que acontece é que estamos num momento do movimento indígena em que não queremos pensar novas pautas para discutir com o governo. Precisamos pensar em como nos fortalecer como movimento organizado, como fortalecer as nossas bases. Até porque, nenhum governo jamais deu nada para os indígenas. A demarcação de terras custou vidas, em muitos casos. Por isso, a prioridade é nos fortalecer.
No começo do ano, você foi à Europa denunciar o avanço do agronegócio sobre os territórios indígenas e pedir o boicote do agronegócio brasileiro. Buscar fazer pressão econômica faz parte dessa nova estratégia?
Essa pressão econômica não é uma estratégia nova. É a retomada de algo que começamos a fazer em 2015. Com tanta coisa acontecendo, essa estratégia deu uma parada. Mas, agora, reavaliamos que, quando há impacto econômico, há preocupação do governo. A próprio ministra [da agricultura] Teresa Cristina chegou a dizer que era perigosa essa história de os índios irem ao exterior pedir o boicote do agronegócio brasileiro. Por isso, vamos para a Europa de novo. Por 40 dias, de meados de outubro até novembro, vamos percorrer nove países. Vamos falar com empresas, pedir respeito aos direitos humanos. E vamos ao parlamento europeu, pedir que não seja comprada a produção agrícola brasileira vinda de áreas de conflito. A União Europeia diz que um dos seus princípios é o respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente. Por isso, vamos cobrar: se o Brasil não respeita esses direitos, por que os acordos comerciais são mantidos? Nós não vamos, simplesmente, pedir o boicote ao agronegócio. Vamos mostrar que esse modelo de exploração tem custos para o meio ambiente, e custa vidas indígenas. Nós não vamos boicotar o agronegócio, vamos defender as nossas próprias vidas, os nossos modos de vida.